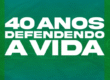RIO – Marias, Mahins, Marielles, malês são nomes femininos repetidos com força no samba da Mangueira. O refrão entoado pela verde e rosa, que lembrou Marielle, é quase uma síntese da biografia da vereadora assassinada, no ano passado, com o motorista Anderson Gomes. Se a escola se dedicou a contar a história de heroínas anônimas, Marielle, ao longo da vida, buscou dar visibilidade a causas de minorias e fortalecer a luta das mulheres. Ela fazia isso dentro da própria casa, na delicada relação com a filha, Luyara, que nasceu quando tinha apenas 19 anos. Mas, em sua trajetória dentro e fora da política, ela também foi inspiração para jovens que partilhavam de seus sonhos e a seguiam em eventos ou para as que descobriram seu papel na sociedade a partir do contato com suas ideias. No dia em que o crime faz um ano, as “herdeiras” são a voz, presente, de Marielle.

A passageira vai fazer o check-in no balcão de uma empresa aérea, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão. Como de praxe, a atendente pede o nome de um contato de emergência. Quase que no automático, a jovem, que viaja sozinha do Rio para Salvador, fala o número de telefone e o nome da mãe: Marielle.
– Quando falei o nome, pensei: pô… não tem mais. Pedi desculpas, e dei o número do celular da minha avó. Faltava ainda uma hora e meia para o voo. Não aguentei e desabei dentro do aeroporto, sozinha _ desabafa Luyara Santos, de 20 anos, com lágrimas nos olhos, filha da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em 14 de março do ano passado, com o motorista Anderson Gomes.
Hoje, um ano depois da morte da mãe, Luyara sente o peso de ser filha da quinta vereadora mais votada no Rio, com 46.502 votos. A responsabilidade aumenta ainda mais quando Marielle serve de inspiração para outras jovens que tentam manter a memória e as lutas dela vivas.A viagem para a casa de parentes em Salvador, logo após a morte da mãe, foi justamente por causa da pressão sobre Luyara:
– Antes já era difícil ser a filha de Marielle. Durante a eleição, minhas amigas me idolatravam. Tem gente que não me conhece e, quando descobre, diz: ‘Caraca, não acredito que estou conhecendo você’. Eu falo que sou uma pessoa normal. Trabalho, estudo, saio, tenho minhas coisas. Minha mãe é que era política, a vereadora. Eu não sou Marielle. Lógico que vou seguir os ensinamentos dela. Estou matando um leão por dia. Tem dias que acordo sem forças, mas preciso ir – diz ela.
No entanto, a vida de Luyara, que hoje mora com os avós, a tia e a sobrinha num apartamento simples no subúrbio do Rio, tem empurrado a jovem cada vez mais para a política. Na verdade, isso vem acontecendo desde seus sete anos. Em 2006, Marielle a levou ao bloco da Maré, “Se Benze que Dá”, fundado pela vereadora, que nasceu e morou lá. Ela queria que o favelado exercesse seu direito de ir e vir dentro da comunidade. Como o local é dominado por diferentes facções criminosas, era uma forma de o moradores atravessarem alguns pontos do conjunto de favelas, o que era impossível nos demais 364 dias do ano.
– Eu ia com ela sempre, desde pequena. Outra iniciação à política foi quando ela foi trabalhar no gabinete do Marcelo Freixo (PSOL). Ele chegou a fazer seminários para introduzir os funcionários no mandato. Fiquei a semana inteira indo com a minha mãe, entendendo o que era política. Beirava os oito anos – relembra.
Mas foi nos último dias que passou com a mãe, que ela percebeu o quanto era importante ajudar Marielle nas bandeiras que ela empunhava. Ela ajudou a colar adesivos nos leques do ‘não é não’, campanha contra o assédio iniciada no carnaval de 2018, além de distribuí-los:
– Ficamos numa correria danada entregando os leques. Todo dia era um aprendizado com ela. Aprender a se valorizar, criar a corrente do empoderamento. Eu sou a semente da minha mãe. O principal legado da minha mãe foi o de as pessoas se reconhecerem como mulheres, negras e, quando fosse o caso, assumirem serem LGBTs.
A última troca de mensagens pelo WhatsApp entre mãe e filha, no dia 14, poucas horas de Marielle ser morta, se relacionava à importância de se valorizar como mulher negra:
– Quando era mais nova, eu alisava o cabelo. Minha mãe também fazia isso na juventude dela. Ela me mandou uma matéria sobre cuidados com o cabelo. Ela dizia: ‘Para a gente nunca se esquecer de cuidar da nossa coroa’.
Luyara se ressente de ter visto a mãe pela última vez na segunda-feira, dia 12. A conjuntivite atacou praticamente a família toda, menos Marielle. Workaholic e com várias decisões para tomar numa semana em que o nome dela seria lançado como vice do candidato ao governo do estado, Tarcísio Motta, Marielle pediu que a filha ficasse com a avó.
— Ela sempre foi muito protetora mas, neste dia, ela chama a minha atenção, pois não queria pegar conjuntivite por causa do trabalho. Reclamou: ‘Você está maluca garota, preciso trabalhar a semana inteira, estou cheia de coisa para fazer’. Respondi: ‘Tá bom, mãe, desculpa’ — relembra a jovem.
Luyara entra em casa. Gasta apenas cinco minutos para pegar as coisas e ir para a avó.
— Foi o último dia que vi a minha mãe, na segunda-feira – lamenta, com a voz embargada, que não teve chances de lhe dar um beijo.
Embora tenha ficado brigada com a mãe, a mágoa durou pouco. Marielle correu com a avó, Marinete Silva, no dia seguinte, para tentar comprar o colírio que o médico receitara à jovem. Como havia um surto de conjuntivite à época, o medicamento estava em falta. Coube ao motorista Anderson levar o remédio, pois ele o tinha em casa.
Ficaram as lembranças dos últimos instantes com Marielle, que estavam cada vez mais escassos por causa da política. Só sobravam os fins de semana. Luyara, que nunca dá entrevistas por ser extremamente tímida, quebra o silêncio para falar de seus planos para o futuro. Órfã de Marielle, a jovem quer dar a sua contribuição, voltando às origens: ajudando a Maré, seguindo o exemplo da mãe.
— Por agora, não tenho pretensão política nenhuma. O que eu quero é ajudar as pessoas, voltar para a Maré, onde meu pai e minhas primas moram. Tentar estender a mão para amigos de infância que hoje, enfim….pegaram outro rumo na vida. Se tivessem tido uma chance, não estariam na vida que abraçaram (o tráfico). Fazer isso com o esporte — explica ela, que faz educação física na UFRJ e trabalha como assessora da deputada estadual, Renata Souza (PSOL).
— Também quero ajudar as mulheres. Minha tia era professora na Maré e dizia que 90% das alunas dela queriam ser mulheres de bandido. Quero mostrar que o caminho do empoderamento de mulheres, negras, pode ser pelo esporte, pela educação – se anima a jovem, que tatuou nela o rosto e a data de aniversário de Marielle.
Do luto à luta pelo direito dos LGBTs: estudante se vê em vereadora

O batom roxo sobressai na pele clara de Amanda Mendes Fraga, de 28 anos. A mesma cor foi usada por Marielle Franco, num evento pelo Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março do ano passado. Era a última vez que a jovem, que a conhecia de debates na luta contra o machismo, racismo e a LGBTfobia, veria pessoalmente a parlamentar. Marielle era uma espécie de guru de Amanda, bissexual assumida.
– Eu tento manter a memória dela viva de várias formas. Era muito bom ver uma pessoa LGBT na política. É indispensável para a gente ter uma pessoa como a gente num espaço de poder e pensar que você também pode chegar lá – explica a jovem.
Amanda é uma das que segue à risca o slogan: “do luto, à luta”, que efervesceu após o assassinato de Marielle. Formada em ciências sociais pela UFRJ, moradora de Niterói, ela é uma das organizadoras do Fórum LGBT da Região Metropolitana.
– Com o aumento da violência contra as mulheres e os LGBTs e, principalmente, após a morte da Marielle, percebemos que o corpo negro de uma mulher bissexual é um corpo matável. Decidimos construir algo em torno da dor de perder Marielle. É como ela dizia: ‘Uma pessoa puxa a outra’. Foi isso que me puxou para cá. Agora eu quero olhar para o lado e ver quem são essas outras mulheres e estar junto com elas – afirma Amanda, como se estivesse convocando as demais.
O luto não foi fácil de superar. Primeiro, veio a perplexidade. Acreditar que a notícia da execução da vereadora não se tratava de fake news. Amanda estava com conjuntivite e lembra que ficou uma semana em casa, sem poder se despedir de Marielle nos atos que se sucederam após a sua morte. Ao término da “quarentena”, decidiu que o caminho era servir de multiplicadora do legado da vereadora assassinada, começando pelas campanhas contra o assédio de mulheres e LGBTs:
– A gente sofre violência desde cedo. Sofri assédio sexual aos 12 anos. Foi minha primeira vez. Uma pessoa mais velha me passou a mão no ônibus, quando ia para a escola. Isso causa traumas. A partir daquele momento, passei a ficar atenta. Parece uma coisa pequena, mas não é. Um adulto violentando uma criança. É aquela coisa do cotidiano, que as mulheres sofrem no caminho da escola ou do trabalho. Aos 14 anos, a jovem percebeu que gostava tanto de meninos como de meninas. Passou a sofrer a segunda violência: a psicológica.
– É sofrido você se entender como LGBT. Porque, para parte da população, é bonito você ter um casamento hétero, ter filhos. Aí você percebe que é diferente disso. Será que isso é um problema? Tive medo, porque pensei: ‘O que vão pensar de mim. Vão pensar que eu sou isso ou aquilo. Será que vão me violentar de alguma maneira?’ – comenta.
Na cabeça de Amanda, só há um caminho: a mulher ocupando espaços na política. Se mataram Marielle, agora haverá milhares iguais a ela:
– Mulheres amarem outras mulheres é algo revolucionário. Os homens estão acostumados a ocupar todos os espaços, ter poder. A relação entre um homem e uma mulher não costuma ser de igualdade. Quando eles veem o espaço livre da presença deles,enxergam isso como uma afronta. Isso incomoda, eles falam coisas, gritam, assobiam. Se você está com a sua companheira, eles chegam e querem beijar a gente à força. Fazem piadas homofóbicas: ‘Vocês estão se pegando? Eu também quero.” Não é assim que as coisas acontecem. É contra isso que estamos lutando.
Morte fez universitária defender as mesmas bandeiras

Numa república de estudantes da UFF, no bairro São Domingos, em Niterói, uma jovem grita nos corredores: ‘Mataram a Marielle’. Já passava das 22h do dia 14 de março do ano passado. Num dos cômodos da casa de três quartos, onde moram 10 meninas, Ana Julia Godinho, que na época tinha 18 anos, ouve a notícia incrédula. Ela não chegou a conhecer Marielle, nem votou nela para vereadora. Até então, nunca tinha votado. No entanto, conhecia bem as bandeiras defendidas pela parlamentar, negra como ela.
– Pensei que fosse mentira. Fui procurar e vi que realmente tinha acontecido. Lembro que choveu muito neste dia. Só conseguia pensar: ’Isso é muito forte e representativo’. Ela era uma mulher negra, lutadora que veio da periferia. Ela estava à frente de seu tempo. Para mim, ouvir que ela morreu, foi muito doloroso, mesmo não a conhecendo pessoalmente. Ela me representava. Percebi que não podia ficar parada – lembra Ana Julia, aluna do 4º período de Nutrição pela UFF.
Moradora da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Ana Julia começou a pesquisar melhor quem era Marielle e percebeu que algo a chamava para a luta contra o preconceito racial. De família evangélica, ela imaginou que não seria fácil adotar tal postura, mas encontrou na mãe uma aliada.
– Eu era feminista, me entendia como mulher negra, mas a minha luta começou depois do assassinato da Marielle. A Talíria (Petrone, deputada federal pelo PSOL) fez uma reunião no auditório da UFF, logo depois do crime, e foi muito dolorida. Todos nós choramos. Foi um momento de luto, catarse. A gente sentiu muito. Aquilo me deu força para entrar na luta – lembra Ana Julia.
Dali, ela e várias colegas que não faziam parte de movimentos pela valorização da mulher negra passaram a se engajar na luta contra o racismo. Um dos eventos que participou foi o “Fórum Marielle Franco, Mulheres de Niterói”.
– Consegui me entender melhor. Estar reunida com pessoas que sentem e sofrem o mesmo que você, ajuda muito no processo de autoconhecimento. Também estou levando isso para a Baixada, de onde eu vim. Não posso elitizar o discurso. Tento encontrar a forma para levar a mensagem. Aprendi que eu preciso me colocar para a sociedade me respeitar. Eu sou mulher negra e cristã evangélica. Essa questão da minha igreja de tentar explicar que as religiões de matriz africana não são menos importantes do que as de origem europeia – conta a jovem.
A valorização dos traços do negro passou a ser assunto debatido tanto em casa como na república, onde mora. Para Ana Julia, cor da pele e cabelo precisam ser valorizados desde a infância.
– Eu tenho direitos, eu controlo meu corpo, eu tenho minhas regras. Isso já estava em mim desde o Ensino Médio, mas agora me sinto forte. No meu entendimento como mulher negra, eu percebi que mataram a Marielle, mas poderia ter sido eu. Isso me fez acordar. Preciso fazer alguma coisa. Não quero que matem meus filhos no futuro, minhas primas. Eu quero ajudar a melhorar – afirma.
Ana conta que já sofreu violência psicológica por ser negra, quando criança.
– Uma colega me disse: ‘Pedi a minha mãe para fazer um penteado como o seu, mas disse que não faria por ser penteado de preto’. Isso eu ouvi com 8 anos. É duro – lembra.
Se a morte de Marielle serviu de sinal para a estudante ir à luta, foi ao deixar de alisar o cabelo que começou sua transformação interna:
– A minha aceitação começou pela transição capilar. Eu decidi que deixaria o meu cabelo do jeito que ele era. Me perguntavam:’ Como ele iria ficar?’ Eu dizia: ‘Não sei. Ele vai ficar como a natureza quiser’. Quando o assunto é racismo, você joga uma pergunta, mas, geralmente, não tem resposta. Meu futuro é saber quem eu sou. Da forma que eu quiser ser. Poder andar na rua sem ouvir alguém dizer que meu cabelo é horrível. É viver sem medo, sem ter que olhar para os lados.
‘Ela já mostrava a potência da mulher’, diz jovem que luta por creches

Em Londres, para uma plateia de jovens de um gueto britânico atendidos por uma ONG, que também desenvolve um trabalho na Maré, Rayanne Soares, aos 15 anos, deu uma aula de cidadania. Ao falar da Vila Olímpica da Maré, construída em 2012, ela explicou que o maior problema era o local onde foi construída. O complexo esportivo foi construído na divisa das favelas Nova Holanda e Baixa do Sapateiro, territórios dominados por grupos rivais.
– Eu disse que na Maré nós temos uma Vila Olímpica que nunca tive acesso, por ela ficar na divisa de duas facções criminosas. Eu, por exemplo, nunca pude nadar lá. Muitos moradores não tinham acesso. As crianças crescem com essa rixa entre elas, de que quem mora do outro lado é inimigo e vice-versa. A minha mãe sempre teve medo. Isso tem que acabar. A Vila Olímpica é de todos! – ressalta a jovem.
Aluna do Pré-Vestibular comunitário, o mesmo que Marielle fez antes de se graduar em ciências sociais pela PUC, Rayanne, atualmente com 21 anos, tenta seguir os passos da vereadora, com que se identificava. O sonho dela é passar para Gestão Pública na UFRJ. Ela conta que, apesar de morar na mesma comunidade de Marielle, só a conheceu num evento em que a vizinha denunciou a morte de um jovem de Manguinhos, em 2014, cujos suspeitos eram PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade.
– Ali ela já mostrava a potência da mulher. A plateia era, na maioria, de PMs. Não me esqueço mais disso. Me identifiquei logo com ela – lembra ela, que perdeu o pai assassinado quando tinha 10 anos.
Com 18 anos, Rayanne engravidou e percebeu as dificuldades em terminar o Ensino Médio sendo mãe, moradora de favela:
– Se minha mãe não tomasse conta, como eu teria concluído?
Fui uma exceção, pois muitas amigas minhas desistiram. A educação pública não está adequada às mulheres de favela. A gente tem que ter espaço, creche, para deixar as crianças. Aqui mesmo na comunidade, as escolas e creches vão de 8h às 14h30m. Fica difícil para quem estuda e trabalha. Teria que ser tempo integral.
Por isso, uma de suas prioridades será se juntar a outras mães em busca de mais creches e escolas – segundo ela, só há dois colégios de Ensino Médio na Maré – para as crianças, principalmente mães solteiras. Também está em seus planos, a luta por direitos humanos de quem vive na favela. Depois de estagiar no Consulado Americano, Rayanne agora trabalha no gabinete da deputada Renata Souza (PSOL), outra cria da Maré.
– Se teve uma Marielle, tem que haver várias. Para não perder mais uma, a gente tem que estar juntas. Mataram ela, mas não o nosso sonho. Este é o legado da Marielle.
Fonte: O Globo