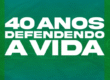É meio-dia. O sol forte de verão obriga os adolescentes a se abrigarem debaixo do telhado externo da escola da aldeia. Querem sombra (para eles) e um bom sinal de wi-fi (para seus celulares). O local quase mágico é o poste com o roteador em frente ao Ceci (Centro de Educação e Cultura Indígena) na terra indígena Tenondé Porã, na zona rural de Parelheiros, extremo sul do município de São Paulo (SP).
Em tempos em que o presidente do Brasil compara índios em reservas a animais em zoológicos, a juventude indígena está em constante estado de alerta nos aplicativos de redes sociais. Na área que reúne oito aldeias, os jovens usam um grupo de WhatsApp chamado Mbyajuery para discutir e trocar informações sobre acontecimentos políticos dentro e fora da região. Nele, as lideranças da comunidade publicam as decisões tomadas nas reuniões e marcam encontros.
A demarcação de terras é o assunto mais comentado. Atualmente, 60% da população brasileira rejeita reduzir áreas destinadas a indígenas, segundo dados da pesquisa Datafolha feita em dezembro de 2018. Os quase 16 mil hectares da TI foram reconhecidos em 2016, mas a nova geração ainda teme que, com o novo governo, alguns direitos sejam perdidos – Jair Bolsonaro (PSL) já disse ser contrário à continuidade das demarcações de reservas.
Em Mato Grosso do Sul, jovens organizaram, também via WhatsApp, encontros de lideranças políticas de todo país para discutir a demarcação de terra e a permanência indígena nas universidades federais. Chamado de RAJ (Retomada Aty Jovem), o grupo é composto por filhos de lideranças que foram assassinados em conflitos com fazendeiros e busca encorajar a luta pela terra por meio da auto-organização e tecnologia.

“Existem poucas políticas públicas voltadas para a juventude indígena, principalmente na nossa região. O confinamento das aldeias trouxe várias consequências para nós: o suicídio, o genocídio, as políticas institucionais que desorganizam nossa comunidade, a maneira como aprendemos e passamos nossa cultura adiante”, diz, num só fôlego, Jânio Kaiowá, 21, da etnia guarani kaiowá, um dos líderes do grupo.
Além das reuniões, o RAJ funciona como articulador nas comunidades indígenas, promovendo e divulgando oficinas de inclusão digital nas aldeias e de formação voltada para o uso das diversas mídias, como internet e rádio.
Mas, num dia qualquer em Parelheiros, nem tudo é sobre política. Como qualquer grupo de adolescentes, os jovens guaranis riem entre uma curtida e outra e compartilham o conteúdo de suas telas. “Nhande Kajuru”, algo como “boa tarde”, diz com voz mansa à reportagem a educadora Jerapoty, que também atende por Josiane Veríssimo, 21. Ela tenta chamar a atenção para conseguir sair do Ceci. “É assim todos os dias. No fim das aulas eles encostam aí na parede para responder às mensagens dos parentes e assistir a vídeos”, afirma.

Desde 2015, quando o único ponto de wi-fi da aldeia foi instalado pela Prefeitura na primeira fase do programa WiFi Livre SP, os jovens da comunidade passam parte do dia por lá.
Tenondé Porã tem a maior comunidade guarani mbya no Brasil – são cerca de mil indígenas do grupo por ali -, e um número significativo deles pertencem à geração Z, os nascidos entre 1994 e 2002. Mesmo crescendo e vivendo a maior parte da vida numa tribo, esses jovens indígenas honram o comportamento e preferências dos chamados nativos digitais, com muitas horas dedicadas às redes sociais, visualizações para youtubers e, claro, discussões políticas em grupos de WhatsApp.
Ao vivo e em cores
Há quem olhe com preocupação essa onda online dentro de Tenondé Porã. Educadora no Ceci, Jerapoty acredita que as tradições milenares devem ser ensinadas junto ao mundo tecnológico como resistência às adversidades, mas com cuidado. Em seu planejamento de trabalho, ela busca sempre pensar em brincadeiras guarani tradicionais como a uruxy e a mandió, técnicas de caça e de plantação, respectivamente.
As aulas começam às 8h e, pela tarde, todas as crianças vão até a Opy, a casa de reza. “Lá eles escutam histórias dos mais velhos. É a maneira que encontro para preservar os ensinamentos guaranis e fortalecer a identidade étnica desde muito cedo”, afirma Jerapoty. Mas as crianças pedem com frequência para as aulas serem na sala de informática, e é preciso ser flexível algumas vezes.
Para Tatiane Klein, doutoranda em antropologia pela USP (Universidade de São Paulo), existe uma reflexão crítica sobre essa apropriação tecnológica até mesmo entre os mais jovens, que estão mais atentos às transformações provocadas por inovações. “As tecnologias estabelecem sempre novas formas de ver o mundo, novas táticas associadas a elas, novas formas de organizar o tempo. E isso não acontece apenas com os povos indígenas. A televisão também é colocada como algo que rouba o tempo, que faz com que as pessoas não queiram conversar entre si”, afirma.
Essas tecnologias servem também para registrar e divulgar a cultura dos povos originários do país, com seus cantos e danças. “Isso não quer dizer que quanto mais perto dos centros urbanos mais usam as coisas das cidades e quanto mais longe, menos. Pelo contrário, os indígenas sabem da existência de todas as inovações e se apropriam apenas das que querem”, completa Klein.
Youtuber indígena e cacique no “zap”
Vestindo uma camiseta de uma rede de academias de ginástica, o estudante de gestão ambiental Karai, batizado Gabriel Veríssimo, 24, tenta captar o sinal do wi-fi. Um, dois, três toques. Seus dedos percorrem pela tela do celular enquanto ele sorri, revelando que sua maior paixão é assistir a vídeos de pagode no YouTube. Mas apenas a linha mais romântica, ao estilo do grupo Raça Negra, sucesso da década de 1990, quando ele era apenas uma criança. “Vou atrás das notícias também, mas a maioria chega pelo Facebook e WhatsApp porque as pessoas compartilham”, afirma.

Lucineide Gabriel dos Santos, a Ara, tem 21 anos e trabalha como agente de saúde na Unidade Básica de Saúde Vera Poty, a única da aldeia. Para ela, o “zap” resolve tudo. “Quando saio para a cidade, por exemplo, fico atenta no celular para falar com os motoristas da UBS e os outros agentes de saúde”, explica.
Mesmo sem entender muito bem as perguntas em português, sua rotina exemplifica o conceito da Geração Z entre os adolescentes indígenas. Retocando a maquiagem do contorno dos olhos, Ara posta foto na rede social. “Tenho 600 amigos no Facebook. Muitos são parentes de outros estados”, conta, enquanto exibe as pulseiras feitas de miçangas e um colar colorido que combina com seu cabelo preto. “Eu recebo muitos vídeos de outras aldeias pelo celular de técnicas de artesanato, inclusive com miçangas. Acho muito bonito e já ensinei para outras pessoas que me perguntam como conseguir uma igual”, afirma.
Na vida pessoal, se não fosse pela carona com os colegas de trabalho, seria quase impossível para Ara, por exemplo, ir ao banco ou fazer compras, atividades que precisa fazer fora da região da aldeia. Antes do “zap”, as idas à cidade eram menos frequentes e usar o transporte público era garantia de não voltar para casa com a luz do dia. Para ir até o centro de São Paulo, por exemplo, é preciso caminhar por uma estrada de terra batida – onde o transporte público não transita -, pegar um ônibus na estrada da Barragem até o terminal Parelheiros e, chegando ali, outro até a estação de trem Grajaú. De lá, são necessárias duas horas de trem e metrô até o marco zero da capital, na Praça da Sé. Ao todo, o trajeto dura cerca de três horas.
“Existe um uso das tecnologias para levar os jovens a conhecimentos que talvez não cheguem até eles fisicamente, por mais que estejam próximos das cidades. A incorporação das tecnologias digitais pelos povos indígenas acontece como qualquer outra apropriação que eles fazem de outras coisas como, por exemplo, os facões, os carros ou de tudo que foi chegando às aldeias de uma forma dinâmica e ativa”, explica Klein.
De Mato Grosso do Sul, o xavante com descendência guarani Cristian Wariu, 20, encontrou no Youtube uma forma de tentar desmistificar a sua realidade. “Infelizmente, hoje no Brasil muitas pessoas acreditam que por um indígena como eu estar usando smartphone, usar roupas e viver na cidade significa que estou deixando de ser indígena, que estou deixando para trás minha cultura”, diz em um de seus vídeos na rede social. Youtuber, ele é dono do canal “Wariu”, que tem mais de 13 mil inscritos. “As pessoas têm uma visão colonial do que é o indígena. O que faço no canal é tentar mudar isso”, completa.