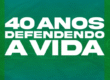Paisagem desértica ao longo da rodovia RN-118, no Rio Grande do Norte – Avener Prado/Folhapress
Veja o vídeo acessando ao link da matéria: Folha de São Paulo
PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTENa estaca zero. É como o agricultor Inácio Manuel da Silva, 73, se sente após a seca ter dizimado o coqueiral no lote onde trabalha há 44 anos. Morador de Sousa (440 km de João Pessoa), ele colhia 21 mil frutos a cada 45 dias, num espaço de 4 hectares (o equivalente a cerca de cinco campos de futebol). “Hoje, se eu tivesse um coco bom aqui, vocês estariam tomando a água dele.”
Na memória de Silva e de outros sertanejos, a aridez atual, iniciada em 2012, é a mais prolongada pela qual o Nordeste já passou. Já nos discos rígidos de pesquisadores, simulações preveem que o déficit hídrico dos últimos tempos deve tornar-se o “novo normal” da região, a reboque das mudanças no clima global.
As previsões para o semiárido do PBMC (Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas), uma iniciativa governamental, são sombrias. Até 2040, projeta-se a diminuição de 10% a 20% das chuvas e aumento da temperatura entre 0,5°C a 1°C. Para 2070, a elevação será de 1,5°C a 2,5°C, enquanto a precipitação encolherá entre 25% e 35%.
Esse cenário eleva o risco de aumento da desertificação, desatada sobretudo pelo uso inadequado do solo, como o desmatamento da caatinga para a produção de lenha.

Coqueiral seco na cidade de Sousa (440 km de João Pessoa), na Paraíba; estima-se que apenas 5% dos coqueirais de 82 propriedades da região tenham sobrevivido à estiagem – Avener Prado/Folhapress
Além de mais seco, o semiárido está se expandindo. Em novembro de 2017, a Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) incluiu 73 municípios na região, que passou a ter 1.130.446 km² (13,3% do território brasileiro). Os 1.262 municípios estão espalhados pelos nove estados do Nordeste, além de parte de Minas Gerais.
Para o município ser considerado parte do semiárido –o que assegura acesso a vários programas, como linhas de financiamento–, é preciso responder ao menos um de três critérios. O mais usado é a precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 mm. Para comparação, na cidade de São Paulo, chove 1.500 mm/ano.
A vinculação dos seis anos contínuos de chuvas abaixo da média no Nordeste às mudanças climáticas divide os pesquisadores. Uns já estabelecem a causalidade, enquanto outros consideram ser muito cedo para essa conclusão.
No entanto, há praticamente consenso quando se trata das próximas décadas. Um exemplo é o estudo recente da FGV (Fundação Getúlio Vargas) sobre a bacia do rio Piancó-Piranhas-Açu, nos sertões da Paraíba e do Rio Grande do Norte, uma das regiões mais áridas do país.
Até 2065, o déficit hídrico acumulado na bacia de 43,6 mil km², área do tamanho do estado do Rio de Janeiro, deverá ser até 133% maior em comparação ao cenário que não considera mudança no clima.
Para entender o semiárido nordestino cada vez mais seco, a Folhapercorreu, em janeiro, cerca de 500 km ao longo dessa bacia, que reúne mais de 1,4 milhão de habitantes e está localizada no Nordeste setentrional, bastante castigado pela seca atual.
Nas cidades e na zona rural mapeadas pela pesquisa da FGV, a reportagem encontrou açudes e torneiras quase vazios, caatinga acinzentada, agricultores acumulando prejuízos, gado morto e uma grande ansiedade pela iminente chegada das águas da transposição do rio São Francisco.
Reza a lenda que, durante viagem ao Brasil, a cantora norte-americana Madonna gostou tanto da água de coco do Perímetro Irrigado de São Gonçalo, em Sousa (PB), que passou a importá-la em grandes quantidades. Outros contam que a fama de ser a água de coco mais doce do país provocou uma onda de falsificações do rótulo de origem.
Tudo isso ficou no passado. Antes abastecidos pelo açude São Gonçalo, que represa o rio Piranhas, os canais de irrigação estão secos e inutilizados pela falta de manutenção. Construídos nos anos 1970 pelo Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), até o início da seca sustentavam a agricultura em uma área de 4.000 hectares.
Hoje, os poucos coqueiros verdes –que bebem, cada um, 200 litros de água/dia– sobrevivem em torno dos poucos poços artesianos ainda viáveis. São oásis em meio a campos abandonados, onde predominam fantasmagóricos pés secos ou troncos tombados no chão.
“Algumas pessoas migraram pra Brasília, outras pra São Paulo. Umas estão em empregos temporários e outras sobrevivem do apoio dos pais, que têm aposentadoria rural”, afirma o presidente de uma cooperativa local, Isaías Raimundo, 33.
Ele estima que só 5% dos coqueirais dos 82 sócios tenham sobrevivido. No lote de 3 hectares da família, não sobrou nenhum dos 600 pés. “Há pouco, plantei meio hectare de banana e também está quase a óbito”, lamenta o líder comunitário.
Segundo a FGV, em toda a bacia Piancó-Piranhas-Açu os prejuízos com a seca na bacia em cinco anos somam R$ 3 bilhões, ou 3,1% do PIB da região.


Trechos da obra do Eixo Norte da transposição do rio São Francisco perto de São José de Piranhas, Paraíba – – Avener Prado/Folhapress
Mais perto da foz, no Rio Grande do Norte, agricultores do assentamento Novo Pingos, em Assu (214 km de Natal), perderam todos os cajueiros em uma área de 500 hectares. O prejuízo só não foi maior porque as árvores foram cortadas e vendidas como lenha.
A boa notícia é que, em breve, a segurança hídrica da região deve melhorar. Após seis anos de atraso, o Ministério da Integação Nacional promete entregar, no segundo semestre de 2018, os 260 km do Eixo Norte da transposição do rio São Francisco, que alimentará a bacia Piancó-Piranhas-Açu. Em São Gonçalo, isso significa mais água para o açude e a perenização do rio Piranhas, que corta o perímetro.
No Eixo Leste, inaugurado em março de 2017, o reforço do Velho Chico normalizou o abastecimento de dezenas de cidades de Pernambuco e Paraíba, incluindo Campina Grande (PB), que se encontrava à beira do colapso.
O estudo da FGV avalia, porém, que a transposição, orçada em R$ 9,6 bilhões, tampouco será a panaceia para a bacia Piancó-Piranhas-Açu: na vazão prevista, as águas do São Francisco têm o potencial de reduzir, no máximo, 40% do seu déficit hídrico.
“Em caráter emergencial, a transposição pode ser uma boa alternativa se bem gerenciada. Mas, a longo prazo, não há medida que ofereça a redenção. A redução dos danos da seca só será possível por meio de ações coordenadas que confiram resiliência aos sistemas hídricos locais”, afirma a engenheira ambiental Layla Lambiasi, coautora do estudo.

Para iniciar um novo plantio, agricultor queima o que sobrou de coqueiral devastado pela seca em Sousa (PB) – Avener Prado/Folhapress
Com mais de quatro décadas de experiência no local, o agricultor aposentado Inácio da Silva acredita que, mesmo com mais água, os pordutores não terão dinheiro para investir no replantio de coco, que leva em média 3,5 anos para produzir.
“Nós voltamos à estaca zero. Os terrenos estão descobertos, ninguém tem uma produção”, diz Silva. “Emprego não tem. Os velhos são aposentados, e os filhos ficam encostados na gente, porque a panela tem de ferver pra todo mundo.”
Um dos sete filhos de Silva, Francisco, 49, passou 15 anos transportando o coco de Sousa para Recife e até Brasília. Quebrado, vendeu o caminhão e agora sonha migrar para o Guarujá, no litoral paulista. “Essa aí é a minha profissão agora”, diz, com um sorriso amargo, apontando para algumas galinhas no quintal.


Acima, “carroça-pipa” puxada por burro em Brejo do Cruz (PB); no meio, fila para obter água em São José de Piranhas; no alto, o motorista de caminhão pipa Antonio Ferreira no reservatório Boa Vista – Avener Prado/Folhapress
A 140 km de Sousa, São José de Piranhas (480 km de João Pessoa) é outra cidade sedenta à espera do socorro do rio São Francisco.
Nos últimos meses, as bombas de água vinham funcionando apenas três dias por semana. Em 12 de fevereiro, o açude municipal entrou em colapso pela segunda vez desde o início da seca, deixando seus 20 mil habitantes dependentes dos carros-pipa. O sistema só foi religado no início de março, após chover forte na região.
No futuro próximo, a cidade deve ser abastecida pelo reservatório Boa Vista, a 14 km do centro, que receberá água do São Francisco. Para isso acontecer, porém, ainda será preciso construir um aqueduto.
Morador do Rabo da Gata, o bairro mais alto de Piranhas, o agricultor José Justino da Silva, 37, ficou sem água encanada desde setembro de 2017, quando a Cagepa (Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba) suspendeu o racionamento por três dias para não prejudicar a Micaranhas, a micareta de São José de Piranhas.
“Tinha água sobrando. São muitos anos que eu moro aqui, e eu nunca tinha tomado banho de chuveiro”, lembra Silva, da porta da sua casa de teto baixo, após ter buscado água de balde no carro-pipa.
Terminada a folia, o racionamento voltou mais severo, e os canos secaram em definitivo no Rabo da Gata. A água agora só chega por meio de caminhões-pipa da prefeitura e do Exército ou por vendedores particulares, que cobram R$ 30 por mil litros (um metro cúbico).
Mas, mesmo sem água, a conta continua chegando. Em janeiro, Silva teve de desembolsar R$ 40,84 em troca de vento encanado. Ele disse que prefere pagar a se arriscar ser cortado da rede –o religamento custa cerca de R$ 90.
No entorno do reservatório Boa Vista, a expectativa também é grande. O agricultor piranhense Cicero Fernandes, 39, está com a vida paralisada há dois anos, desde que trocou o sítio, que será submergido quando o açude receber água da transposição, por uma das quatro vilas produtivas construídas para os reassentados.
Fernandes e outros agricultores têm direito a lotes de 7 hectares, dos quais apenas 1 hectare será irrigado. Os demais são de “sequeiro”, termo usado para áreas agrícolas que dependem da chuva.
Enquanto o projeto de irrigação não é implementado, as famílias reassentadas recebem uma ajuda mensal de 1,5 salário mínimo. Fernandes diz que o benefício é suficiente para se manter, mas vê as famílias fora dos assentamentos em situação pior.
Muitos recorrem a temporadas de corte de cana em São Paulo ou à “furadinha” –venda ambulante de roupas em cidades do Maranhão e do Pará. O nome tem origem numa tabuleta de papel usada para fazer sorteio de produtos. Aos poucos, os vendedores trocaram a rifa pela confecção, mas o nome permaneceu.
“A dificuldade aumentou. A cada ano que passa, a gente vê sofrimento das pessoas para sobrevivência humana e animal”, diz Fernandes. “Mas o sertanejo é forte, criativo, persistente. Tem sobressaído nessa teimosia dele e vai dando certo.”

Principal açude do município de São José de Piranhas, seco; em fevereiro, local entrou em colapso por causa da estiagem – Avener Prado/Folhapress
Coordenador local da Cagepa, Rondynelli Dias diz que o açude municipal “sangrou” (transbordou) pela última vez em 2011. Desde então, foi se esvaziando. No início de janeiro, quando a reportagem esteve na cidade, estava com apenas 1,6% da capacidade. No início de março, com as chuvas, subiu para pouco acima de 20%.
Já acostumado a cobranças quando circula pelas ruas, Dias afirma que a Cagepa fará um levantamento sobre as contas indevidas de água.
A seca prolongada é apenas um dos problemas do rio Piranhas, o principal da bacia. De tão debilitado, não consegue mais chegar ao mar.
Em São Bento (390 km de João Pessoa), parte do esgoto corre a céu aberto em direção ao leito fluvial. A cidade, a maior às margens do rio, tem só 57% de esgotos recolhidos.
“Não adianta [o rio] receber a água limpa do São Francisco e ela se contaminar com esgoto”, afirma o ex-vereador Josué Diniz de Araújo, 69, membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu.



Cenários desérticos na rodovia RN-118, no Rio Grande do Norte; no meio e à direita, criação de camarão afetada pela seca na região da foz do rio Piranhas – Avener Prado/Folhapress
Há ainda a disputa pela água. O caso mais notório está perto do litoral, na região de Pendências (194 km de Natal), envolvendo moradores e a criação de camarões.
Ex-pescadora do rio, Ana Lucia de Souza, 45, diz que há reclamação contra as empresas de camarão, acusadas de sobreuso da água. Por outro lado, é a principal fonte de emprego do município. “Não fossem essas empresas, não sei nem como a gente viveria por aqui. É uma coisa pela outra.”
Nascida na região, ela diz que, antes, o rio era diferente, com água e peixe: “Uma coisa linda. Dá tristeza hoje, só vê mato”.
Responsável pela gestão da bacia por ela ser interestadual, a ANA (Agência Nacional de Águas) não pode interferir para resolver o problema do esgoto urbano. Carlos Perdigão, coordenador da Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos, afirma que a prioridade da agência é melhorar a distribuição da água no semiárido.
Além da conclusão da transposição, ele aponta como obras essenciais o término da barragem de Oiticica, em Jucurutu (RN), e a construção de um ramal para levar a água dali para a região do Seridó (PB/RN), que enfrenta processo de desertificação.
Em linha semelhante, a FGV avalia que é preciso ir além da transposição para evitar um prejuízo econômico na bacia que, em 50 anos, pode alcançar R$ 7,8 bilhões: “Quanto mais diversificado for o conjunto de intervenções, a região estará menos exposta a eventos climáticos”, afirma Lambiasi.
O estudo defende a “gestão da incerteza” como diretriz para minimizar os prováveis impactos da mudança do clima. As medidas sugeridas incluem a redução das perdas no trânsito da água entre reservatórios e a busca de atividades econômicas e práticas mais alinhadas com o semiárido.
Os pesquisadores calcularam que, caso o poder público adote o conjunto de medidas recomendadas, a redução do déficit hídrico poderá chegar a 73%, e até 93% das potenciais perdas econômicas serão evitadas.
Paraibano de Sousa e há pouco mais de dois anos à frente do Insa (Instituto Nacional do Semiárido), Salomão Medeiros afirma que um dos grandes desafios é levar a informação gerada pelos estudos até os gestores municipais. Os obstáculos vão desde a linguagem técnica difícil até a necessidade das prefeituras de atender a demandas urgentes do curto prazo.
“Existe também uma questão cultural nossa: a esperança de que vai chover”, diz o engenheiro agrícola.

Família se protege da chuva na cidade de São Bento (390 km de João Pessoa), na Paraíba – Avener Prado/Folhapress
Fonte: Folha de São Paulo